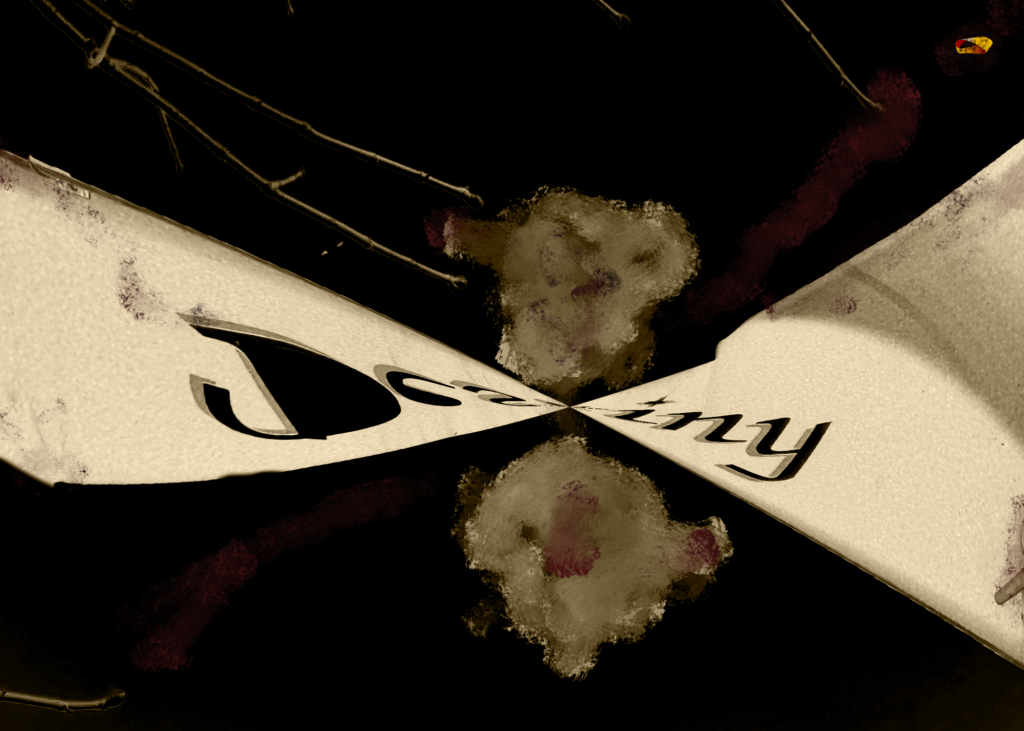Ensaio por Désirée Jung
Para baixar o texto, clique aqui.
Se isso é o resíduo de algo não articulado no meu nascimento, o tempo dirá. Aqui, só posso especular a partir da inscrição intuída nas palavras que me escrevem: eu, que se desconhece como louca por toda uma vida, e, de repente, faz disso sua cura e um amor irreparável, criando para si um impensável destino, outrora maluco.
Reconhecer-me como louca, ou mad em inglês, abre as portas para a ressignificação e ato proprietário sobre o meu próprio corpo. Do direto de ser louca, lanço um gesto de renovação para ousar e redirecionar uma ordem ancestral: cumprir e obedecer ao juiz de fora (não curiosamente, o nome da minha cidade de nascimento).
O rigor dessa jurisprudência sobre meu pequeno ser é eficiência plena durante grande parte da minha vida, diria até mesmo antes dela. Um desejo de submissão e rebeldia encarnadas num só nó que amarra os livros da minha lei, enquanto, na intimidade, um eu que cria formas para sobreviver, jamais viver, uma vez que isso é impróprio, sujo. Desde pequena, tinha o costume de chamar esse juiz de fora de meu capataz, pai cruel, lei extrema, superego mandante do gozo em excesso, enfim, um controle interiorizado e exacerbado para que eu não ousasse desejar fora da sua lei (uma vez que eu não sabia qual era a minha).
Mas o que significa desejar fora da lei? É ser louca de paixão ou ser inconsciente de gozo? De que loucura falamos? Do incesto apenas? Ou da transgressão e reestabelecimento de um limite onde o gozo abre espaço para o prazer e o amor, em sua pura e impensáveis formas? Esse arco sexual, essa arte de ser sexuado e habitar um corpo, parece fácil, mas é exatamente impossível de se dizer, de se articular, salvo o que tange essa mesma impossibilidade. O ato sexual, se bem atuado, é uma ocorrência que leva consigo a medida de um repente que ecoa com o impossível.
Diante dessa impossibilidade, há sempre o risco de nos depararmos com uma inconsciência proveniente de tempos ancestrais, o retorno maligno de uma repetição incessante que demanda mais e mais, num recomeço excessivo e cruel, desejando repetir o mesmo, insanamente. Por que falar tudo isso? Há nexo no meu desanexo. Entender onde começa o meu direito de ser louca como escolha de vida, e não como destino de repetição, sentença de insanidade mortífera vinda de fora. E o que para mim é ser louca? Irracional é não saber articular tudo e todos através da racionalidade, e das leis da mente. Diante dessa entidade que julga o corpo com a lei da razão, e daí dita suas regras, não há negociação, mas excesso de negação.
Se fizeres isso, ganhas um momento de respiro. E fazer isso significa arrumar uma cadeira mil vezes no mesmo lugar, pensar excessivamente em morte, cultivar um altar para a pulsão destrutiva da vida. Ad infinitas. Dessa loucura, gozei meu tempo, impossibilitada de sentir prazer e deleite. A vida, nessa sentença, faz do corpo um locus de obediência e submissão diante de um opressor fantasiado de um saber fazer direito: fechado ao amor, às portas (e pernas) abertas do coração e suas verdadeiras razões. Enquanto cumpri minha pena, forçada por mim mesma, lutava também para reelaborar tamanho martírio. O trabalho psicanalítico que escolhi foi uma aposta (incerta, como qualquer aposta) e um desejo de articular, via palavra, a impossibilidade de me soltar, e abrir mão (a mesma que me segura) dessa juiz de fora (também a minha bendita origem), esperando o renascimento (ou a lembrança) de uma lei interna, que ressurge, subitamente e para minha inesperada surpresa, quando minha vida está em jogo. Diante de uma diagnose de câncer na base da minha língua (isso mesmo, da minha língua), faço duas operações, sendo uma de urgência, para remover o tumor ali localizado. Tal operação é feita por um robô conduzido pelas mãos de um cirurgião, que opera a máquina.
É esse estranho ser de metal que me penetra pela boca e faz essa cisão na base da minha língua, cortando meu órgão em sua materialidade real, separando o que dela se faz morte, do que dela anuncia a vida. Meses depois, ao receber o resultado, irei ouvir: a patologia indica que a língua apresenta um negativo, em termos médicos, que foi retirado mais do que era preciso. Ou, dito da minha forma, esse resto que saiu é o que a palavra verbalizada não conseguiu alcançar daquela bebê sem fala. Mas estou me antecipando.
Preciso contar que a segunda intervenção foi uma operação emergencial, resultado de um sangramento inesperado no meio da noite, quando ainda estava hospitalizada, e que encheu minha boca, e meu corpo, de um excesso de sangue, de uma quantidade absurda de origem. Foi nesse instante, eu posso afirmar, que entendi o primeiro sentido da lei, dessa determinação que precisa separar os corpos para que eles possam viver conscientes dos limites e dos ciclos da vida e da morte, apesar da ilusão de filiação e eterna repetição, muitas vezes inconscientes nos pais, mas que se manifesta nos descendentes, sucessivamente.
Ali entendi que era hora de soltar a juiz de fora do meu corpo e ouvir a minha voz interior, essa que habita no meu corpo, e que tanto deseja mas se excede em sangue, em linhagem, e que, ainda assim, de forma magistral (como dirá posteriormente um dos médicos de plantão), é capaz de engolir (já inconsciente, e sob efeito de anestesia geral) o coágulo sob minhas cordas vocais, e assim sacrificar o sangue, a origem, liberar minha respiração, facilitando a tessitura do corte. Hoje sei que esse sangramento pode ocorrer numa pequena percentagem de casos (20%) desse tipo de operação, visto a quantidade de nervos na região do corpo onde o tumor foi retirado, sem contar a localização de várias artérias centrais, uma delas que liga a nossa respiração diretamente ao batimento do nosso coração.
O interessante ainda é que, apesar da ciência ter fama de universal e em busca infinita de respostas definidas, os médicos, neste caso, e para minha sorte, diria quase todos que me atenderam, deram autoridade final de saber ao meu corpo, expert no sucesso dessa travessia. Ao ponto de eu ouvir, quase como um suspiro, enquanto acordava e convalescia na emergência após a segunda cirurgia, extremamente fragilizada, cansada (como se tivesse dado luz à mim mesma, e ao meu vazio), após a perda de tanto sangue, o médico me assegurar que eu havia saído dessa porque meu corpo sabia exatamente o que estava fazendo naquele momento, permitindo, então, a ação efetiva da equipe. Diante da morte, a vida, que beira quase que num segundo. E a consciência atemporal de um saber (não sabido) anterior à palavra e que rege a lei e a pulsão da vida, mas também da morte. Ainda assim, por que dizer algo diante de tudo isso? Para poder entender como essa confiança no que não se sabe determina a lei de quem escolhe viver, agindo continuamente sob nossos corpos e dando o limite e as saídas, muitas vezes impossíveis de serem articulados, mas ainda assim, válidos com a mesma ciência.
Coube a mim, e ao meu desejo, desvendar essa trama disruptiva e destruidora, e recriar um novo caminho para essa louca infame (essa infante em chamas). Mas eu não fiz isso sozinha. Trabalhei, durante anos, e ainda permaneço, a elaborar o limite do indizível através do trabalho psicanalítico. Sem uma outra pessoa, ocupando a função de ouvinte, essa tarefa teria sido impossível, pois qualquer laço só se estabelece entre um e outro. Sendo que a dialética do juiz, inversa a que nos enlaça no amor, é perversamente mortal e julgadora: numa ditadura que mata o eu, em prol de um outro gozo, e onde o sofrimento atinge níveis inimagináveis, em sua melhor, e pior versão, da lei e do limite.
Ao me apropriar da demarcação entre a vida e a morte, e de certa maneira, optar por renascer a partir desse corpo castrado, cortado do ideal de fusão original, validei as emoções inauditas dessa bebê que veio ao mundo outrora louca de raiva (mad). Essas memórias, eu sei, são cheias de falhas, e ainda assim, importantes de serem ditas, para que ajam plenamente sob minha pele. Pois é dessa tessitura, também, onde se encontram os buracos, os desejos loucos e sem sentido em suas possíveis desaparições.
Do meu direto de ser louca: para que o retorno à mítica origem materna, de juiz de fora, e do mesmo mortífero, seja possível recriar uma nova dança, onde eu, perdida na erótica entre corpos apaixonados e entrelaçados de amor, me perca no outro, mas me ache em mim, depositária de traços fundidos na carne, de uma herança em eterno reescrever-se, afetada pela prata loura da lua sob os nossos corpos mortais, transitórios, assombrados pelo sopro da pulsão, irrestrito e contigente, recipiente de frequências e sentidos a serem redescobertos, num prazer irrestrito das residências temporárias das palavras.
Haja vista que os fatos são nada mais que versões, nada mais que nadas remontados, é assim que reconto minha pequena história. O resumo desse renascimento, dessa repetição traumática, dessa loucura de vida e morte entremeadas. O relato dessa menina que nasceu e adoeceu gravemente após o parto. Que viveu recorrentes acidentes de trânsitos que quase tiraram sua vida, uma sequência de ataques psicóticos, um temor exacerbado da lei e um louco desejo de ser corpo e efemeridade. Desse parto normal, reza a lenda, fui colocada numa incubadora por alguns dias com uma febre altíssima que, logo após chegar em casa, se desenvolveu numa infecção intestinal dada à uma contaminação hospitalar.
O que esse bebê quer? Ainda consigo ouvir ecos ao meu redor. Por que ela não fica boa? Eventualmente, com um excesso de comida, afeto e oração, a criança resolve acatar a condição de estar viva e fora do corpo da mãe (seja por desejo meu ou dela, não sei). Demorei muito tempo para entender plenamente isso. Demorei também para ver que a minha tão ousada independência, que me fez ser capaz de criar uma nova vida num outro país, estrangeiro, e viver sozinha, sem ninguém (ou o fato de não ter me casado e nem ter filhos) são parte da contingência, mas também de um desejo inconsciente de destino de separação e alienação presente em mim.
Seja como repetição traumática do que meus pais desejaram e não puderam realizar, seja como resíduo de tantos outros semelhantes princípios, a vida se realizou como pôde. Claro que hoje muito mudou, e em grande parte graças ao trabalho da psicanálise, além, é evidente, do meu próprio espírito, aguçado pelos mistérios de tudo que é mais oculto e tabu na minha alma – pois mesmo se resistisse, as experiências da vida me levariam inevitavelmente a enfrentar todas as minhas sombras. Por isso, e algo mais, não me sinto mais alienada, e menos ainda separada do coletivo ou da sociedade – resultado de um trabalho exaustivo, determinado, e duramente conquistado, obviamente com suas limitações contigentes.
A demanda de uma volta idealizada para casa, de uma pureza das origens, exerceu um poder devastador sobre mim, e por longo tempo foi um fantasma destruidor de qualquer possibilidade de recriação, visto sua invisibilidade incompreensiva e veracidade narrativa. Dito de outra forma: eu acreditei mais no fantasma que na minha capacidade de recriar uma nova história. Isto é, até agora. Hoje eu já consigo entender como esse desejo inconsciente de linhagem, e demanda de semelhança, atravessa uma série de gerações inconscientes e anteriores à minha.
Um coletivo de mulheres e homens desatentos do saber de um coração que bombeia muito mais que sangue. E tudo isso para dizer que, ainda assim, não tenho respostas definitivas (ainda bem), apenas a coragem de fazer as perguntas. Pois são elas que, de alguma maneira, indicam o caminho da minha verdade e singularidade, parcial e imperfeita, efeito daquilo que mais desconheço em mim e também nos meus antepassados, que se por um lado me desejam viva, por outro, também me condenam à morte. No princípio, a meu ver, deveriam restar apenas o amor e o desejo (nosso e daqueles que nos cercam) para que essa pequena célula se expanda e vença a morte, a trama e o empuxo ao inorgânico (transvertida em origem) – enquanto for possível.
Depois de tantos anos de trabalho, de intensa aposta analítica e amor transferencial por alguém que desconheço como sujeito mas que, durante anos quase ininterruptos, exerceu (e ainda exerce) a ética da escuta a serviço de ouvir o desejo de um outro, que um real inarticulável do meu corpo conseguiu ser redirecionado para um outro lugar, permitindo ainda que, daquele bebê outrora raivosamente triste, pudesse surgir uma mulher dentro de mim através de um saber refazer-se num existir-se sozinha, em falta, a desejar, mais ainda, novos laços a partir do que se apresenta como alteridade em mim, agora despida de tanto sangue e placenta.
Uma intervenção, uma segunda vez, que no caso do ato médico, ocorre exatamente na madrugada onde se modifica o horário oficial no Canadá (de verão para outono), num entretempo característico da atemporalidade intermitente do inconsciente, que se repete sem qualquer referência ao horário cronológico, reescrevendo-se na diferença.
Um corte para além do umbilical, na carne viva e real do meu corpo, na base da minha língua, essa que recebi do outro, e que até então eu não sabia dizer se era mesmo minha, oficializando um outro tempo, uma incerteza, numa outra lógica, sobre meu corpo (sem horário definido, segundo o boletim médico.) Essa e muitas outras histórias fazem parte do meu caleidoscópio de vivências: o meu esforço de articular meu direto de ser louca, que tento esboçar aqui. Pois como tudo que é da memória, o que me escreve parece estar andando em círculos, falando sobre uma coisa, e querendo dizer outra, por assim dizer.
Como os sonhos recorrentes sobre estar perdida e não lembrar o caminho de casa. Como uma bebê louca de raiva ao se separar da mãe, fonte de seu amor incondicional. Como uma experiência de meditação que me entrega uma visão e um sonho (pois adormeço), quando, em busca de minha mãe, eu, ainda criança, a encontro deitada num banheiro inundado, inconsciente, talvez morta, a torneira aberta. Tamanho o choque, que fico em pânico, sem saber como pensar no que fazer. Ao invés, ajo por intuição e impulso, num saber que não se sabe (mas sabe) o que faz.
A criança que eu fui carrega o corpo de sua mãe até o corredor (sabe-se lá como) e deita seu ouvido sobre o peito materno: ela (eu) quer ouvir o seu coração, para ver se a mãe ainda está viva. É nesse momento que ouço uma súbita expansão vindo do centro materno, enquanto, ao mesmo tempo, sinto seu coração se inflar, pleno e sem medida ou qualquer controle, na minha direção. O que vejo e sinto é o seu coração se ampliar com tanta intensidade até fundir e adentrar intimamente no meu, me expandindo de tamanha forma que acordo. Abro os olhos. A minha emoção é tão grande que demoro a compreender o que se passa. Pouco a pouco, ainda desorientada com o que se passou, respiro fundo e ressinto o meu coração, o mesmo de minha mãe, agora pleno de vida em mim. Deitada na cama, começa a clarear na minha memória a lembrança de decidir meditar após chegar em casa cansada de uma sessão de radioterapia.
Relembro também que minha mãe faleceu há mais de sete anos, que aquele banheiro existiu no passado, e que essa memória é parcialmente verdadeira no conteúdo de suas imagens, mas plenamente irreal na veracidade dos fatos ocorridos. Reconheço, ainda, que há muitas coisas que a gente desconhece fora da temporalidade do sentir consciente. Por um instante, ou um pouco mais, fico em estado de pausa, demorando a reabitar o meu corpo. Quando, de repente, e de um lugar distante, porém perto, ouço ao fundo (e estranhamente fora de mim), o choro ininterrupto de uma bebê, que acha ter matado sua mãe ao nascer e se separar dela.
É naquele momento que compreendo, um pouco sem razão, mas repleta de lucidez, que essa neném chorando e em desespero sou eu, perdida em algum lugar do passado em mim, e até esse momento, sem ter sido escutada. Então, com a paciência e amor materno, ouço seu lamento, sua lástima, e lhe explico com cuidado (e também para mim) que ela não matou ninguém, e que sua mãe viverá para sempre, agora em paz dentro do seu coração. É desse amor de onde nascem todas as coisas, digo, e escuto.
E é assim, através de uma simples, e quase acidental, meditação guiada, com o intuito de mudar minha frequência astral, que reencontro um segundo momento da lei fundado no amor dessa mãe, agora internalizada e reacordada dentro de mim, tempos depois. De olhos abertos, e ainda assustada pela veracidade dessa experiência, fora do tempo linear da memória, recupero o que havia esquecido: a identificação que tenho com a minha mãe é a do seu coração.
Nessa ciranda de ressignificação, entendo também a impossibilidade de me separar de uma qualidade de gozo e prazer que me caracterizam, apesar do meu temor, e mesmo do meu horror. Minhas idas e vindas fusionais com corpos, imagens e percepções: meu jeito de perceber o outro atravessa inúmeros caminhos e é fonte de infinitas possibilidades e saberes, nem sempre racionais ou vistos com bons olhos pela lei da mente.
No meu corpo, um não é só um, mas vários outros, o que dificulta a minha aprendizagem num mundo onde (historicamente) cada coisa dever ser apenas uma única e mesma coisa, e ai de quem questionar por que mar não é concha, lua e sopro, ou tudo isso junto, pois sempre chega a hora da razão, de voltar a si, ciente da ciência e do limite de cada palavra e coisa. Se o que parcialmente caracteriza o meu desejo é amar intrinsicamente, de forma louca e apaixonada e com fusão expansiva, é precisamente aí onde vivo melhor, principalmente quando esse jeito de ser não mais me condena à pena de morte.
Saber fundir-se é também saber separar-se e sustentar a falta em sua mais profunda expressão constitutiva, essencial para a criação da vida (ou da morte), dependendo do que desejas. Do impossível de se articular, da castração da língua, surge o renascimento do amor de mãe dentro de mim, das origens do meu afeto, da minha forma de amar e desejar, e de onde nasce a lei da vida. O erro de cálculo nasce no equívoco de achar que o coração está dentro da língua, do que se explica por palavras, enquanto o que pulsa na pele é uma fala exógena, muitas vezes louca de desejo não dito porque inconsciente ou impossível de se dizer.
Indiretamente posso arriscar dizer que foi via o processo, e os sintomas, da radioterapia que posteriormente vivi – seis semanas de aplicações diárias de jatos letais e fortes de luz sobre a região afetada pelo tumor (o lado direito do meu pescoço) – quando compreendi alguma coisa sobre como processar as marcas anteriores não elaboradas e que, de certa forma, se repetiram e se reatualizaram: das queimaduras intensas deixadas sobre a pele. Da febre de calor guardada dentro de mim. Da falta de gosto na língua, do desgosto sem gosto dos sabores e saberes.
Da base da minha língua, agora castrada e consciente de seu limite de racionalidade e de tudo o que é impossível de se dizer. Do corpo que outrora temera faltar em palavras e agora vive o amor irracional que desfia a supremacia da razão, desafiando a morte como uma brisa temporária, uma desorientação espiral de saberes e consciência alternantes, confiante no maior bem que herdei: a vida, enquanto dela seja possível viver, na mistura de mares, cores e ares, longe e perto de casa, presente além das repetições raivosas de uma louca, e mad bebê, transgredida através da intersecção do amor de mãe, e da lei do desejo na ressignificação da dádiva do dom, retornando ao mesmo lugar mas de forma diferente, louca de paixão, daquelas que se reconhecem na alteridade do tempo da chegada, no outro, e na outra, que surgem a posteriori, para que o desejo de amar seja vivido em sua plenitude, já sem tempo e lugar próprio.
Publicado na coletânia Virando a Página, Editora Selo.
Matéria publicada no jornal Correio Braziliense.

 Português
Português